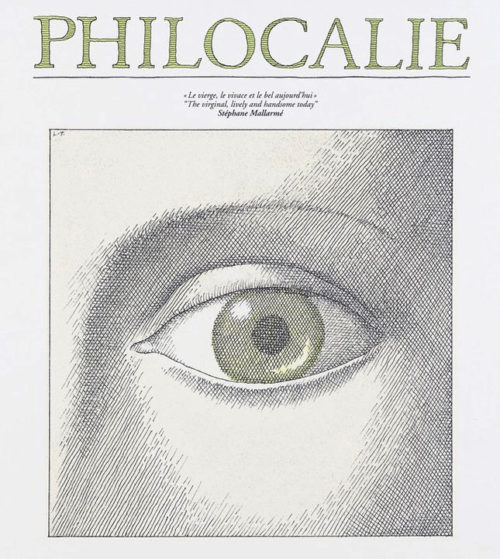Slow life

Kinfolk :: ©Citizen Atelier
O Slow Movement começou a aparecer no final do século XX tendo como elemento central o estabelecimento de uma nova relação homem-tempo. Não surgiu como movimento social coletivo, estruturado, mas como resultado de ações pontuais de pessoas ou pequenos grupos de diversos segmentos da sociedade que buscavam substituir modelos culturais pautados por eficiência e pela síndrome do tempo por outros mais holísticos e integrativos. Em linhas gerais, veio como reação aos ‘impactos negativos da globalização econômica e cultural, especialmente no que concerne aos desequilíbrios gerados pela aceleração desmedida dos procedimentos e relações sociais, para propor uma nova relação do homem consigo, com seu meio, seus sistemas de produção, de concepção de valores e de ordenamento institucional, sempre a partir da transformação da relação da sociedade com o tempo.’ * Ou seja, mais do que pregar desaceleração, o slow movement trazia o conceito de qualificação do tempo.
Sob essa perspectiva, o pensamento slow conectou-se com a ideia de qualidade de vida: descobrindo o que é mais importante para nós mesmos, podemos estruturar nosso jeito de viver – nosso lifestyle – de forma a garantir mais tempo para as coisas de que gostamos, aquelas que realmente queremos fazer, aquilo que achamos mais benéfico, belo, divertido, prazeroso. A descoberta da real importância das coisas e do prazer que cada uma pode nos dar (e que nada mais é do que a reflexão sobre si mesmo) acaba conferindo significado às escolhas e colocando-as em outra dimensão, já que passam a traduzir a verdade e a unicidade de uma determinada existência.
Foi justamente esse esprit du temps que a revista Kinfolk soube captar tão bem. Criada em 2011 por um grupo de amigos liderado por Nathan Williams em Portland, Oregon, em menos de cinco anos passou de publicação independente a uma das mais influentes referências estéticas contemporâneas. Poucos meses após o tímido lançamento do perfil @Kinfolk no Instagram, a primeira edição impressa foi lançada por uma editora de San Francisco; sete números depois, suas operações já eram transferidas para a Dinamarca onde, por meio de sua própria editora, Williams passou a lançar edições trimestrais com cerca de cento e setenta páginas primorosamente impressas e conteúdo dedicado às diversas instâncias do ‘lifestyle’: moda, decoração, arte, trabalho, cultura, entretenimento. Desde então, cada número da Kinfolk é estruturado em torno de um tema – o mais recente, da edição Spring 2021 #39, é ‘Juventude’; edições anteriores já trouxeram questões como ‘Mudança’, ‘Intimidade’ e ‘Educação’, falaram de cidades como ‘Tóquio’ e ‘Paris’, e abordaram assuntos como ‘Arquitetura’ e ‘Esportes’.
Em entrevista concedida em 2016 à revista dezeen, Nathan Williams contou que o foco inicial da Kinfolk era ‘comida’ – a ideia era dar à revista um ar de ‘mesa de amigos’, onde se compartilham alimentos e ideias. Com o passar do tempo, no entanto, pesquisas e entrevistas indicaram que os leitores se conectavam à revista não exatamente por esse ‘clima’, mas por associar seu conteúdo à qualidade de vida. A partir dessa informação, Williams e sua equipe criativa (atualmente distribuída por Copenhague, Tóquio, Londres e Nova Iorque) redesenharam todo o escopo editorial da revista, e esse enfoque, atrelado aos princípios do Slow Movement, definiu os rumos da publicação. Hoje, a Kinfolk é uma potência que se multiplica para além da versão impressa: posts diários no site, no Instagram e no Facebook; livros temáticos; campanhas, filmes e publicações tailor made para clientes globais; eventos internacionais e até uma galeria no coração de Copenhague – a Kinfolk Gallery, projetada pelo Norm Architects como espaço colaborativo e multifuncional que acolhe exposições de arte, lojas pop-up, palestras, desfiles de moda, oficinas etc..
Segundo Williams, ‘as revistas de interiores que assinamos e que chegam ao nosso escritório geralmente se concentram no design e no estilo, quase sempre deixando de fora as pessoas, suas vidas e as experiências que acontecem em suas casas. Nós, quando trabalhamos nos livros e em cada edição da revista, buscamos realmente captar um estilo de vida, traduzir a pessoa que mora em um determinado espaço, o que aquela faz, por que organizou a casa daquela maneira, como aquilo funciona, por que aquelas escolhas dão certo dentro de seu modo de viver… Nunca fotografaremos ou apresentaremos uma casa sem incluir um retrato do proprietário da casa’.
Por esse jeito tão próprio olhar para as pessoas e os assuntos de que trata, a Kinfolk acabou construindo uma linguagem muito particular. Os textos, mais extensos e profundos do que os da maioria das revistas de mesmo segmento, as fotografias de estética analógica (que colocam as imagens no campo do real, do concreto e imperfeito), a curadoria dos temas e seus conteúdos específicos, tudo na Kinfolk tem a intenção de transportar o leitor para um lugar calmo, lento e tranquilo, onde esse leitor tem a possibilidade de estabelecer uma conexão real com o que está vendo e lendo. A ideia não é exibir indivíduos, objetos, ambientes ou lugares (a exibição distancia) mas conferir significado a eles (o significado aproxima).
Decupada em inúmeras vertentes e talvez por isso equivocadamente banalizada (slow food, slow travel, slow school, slow fashion, slow cities…), a cultura slow na verdade trata de valores mais profundos. Carl Honoré, autor de ‘In praise of slow‘ ** e um dos primeiros a jogar luz sobre o movimento, diz que ‘não se trata de fazer tudo a um ritmo de caracol. Trata-se de tentar fazer tudo à velocidade certa. Saboreando as horas e minutos em vez de apenas contá-los. Fazendo tudo o que for possível, em vez de ser o mais rápido possível. É sobre ter qualidade em detrimento da quantidade em tudo, desde o trabalho até a comida e a criação dos filhos’.
Talvez este momento difícil, em que sociedades inteiras, em todo o planeta, estão sendo obrigadas a alterar seu ritmo de vida, nos dê a oportunidade de refletir sobre nossa relação com o tempo e de recuperar nossa autonomia em relação a ele. Entender o que de fato é relevante, dar sentido às nossas escolhas, reorganizar e moldar a vida de forma a garantir mais tempo para as pessoas com quem nos importamos, para as coisas de que gostamos. E aprender a usufruir desse tempo com integridade e presença, e não simplesmente preocupados com a próxima tarefa a cumprir.
Para saber mais:
* Extrato do texto ‘Slow movement: reação ao descompasso entre ritmos sociais e biológicos’, de Rafael Chequer Bauer, Alexandre Panosso Netto e Luiz Gonzaga Godoi Trigo, publicado na Revista de Estudos Culturais da Escola de Comunicação, Artes e Humanidades da USP (EACH-USP), edição nº 2 :: Dossiê Temporalidades, 2018
** ‘In praise of slow’ foi lançado no Brasil pela Editora Record em 2005, sob o título ‘Devagar’